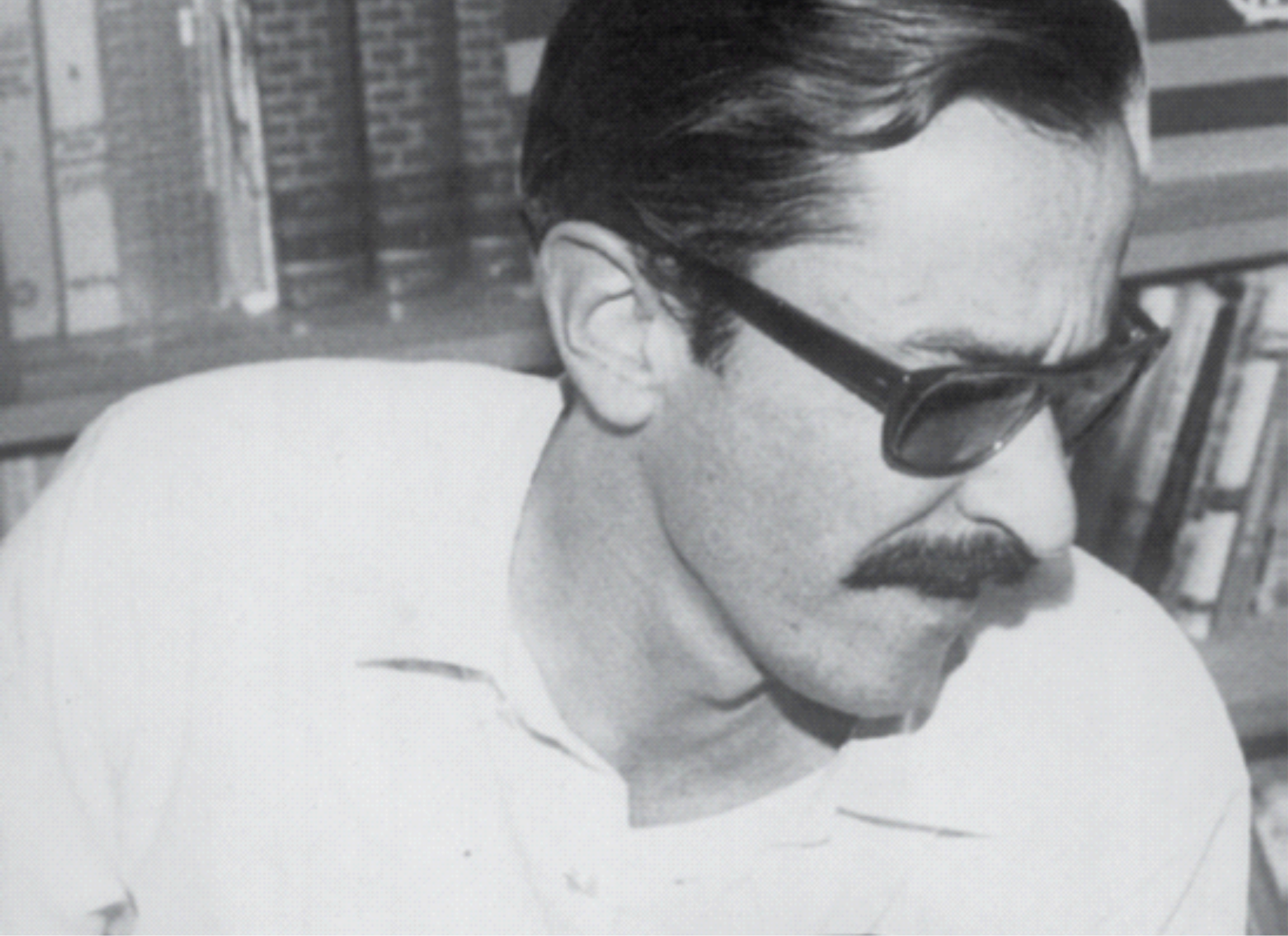Caía a última tarde da minha adolescência
quando eu e Elvis entramos na sua casa.
Trazíamos um gravador de rolo
e fomos direto para a cozinha.
Era lá que você estava nos esperando.
Notei que você não deu muita atenção ao Elvis,
praticamente como se ele não existisse.
Na verdade, ele tinha acabado de chegar do Vietnã,
onde seus conterrâneos continuavam
espetando o pé em bambus envenenados.
Estava meio deprê. Por isso, como você bem se lembra,
ele ficou o tempo todo de bico calado.
Só movimentava o maxilar com a finalidade
de mascar chicletes.
Então liguei o gravador e você começou a contar
a história da música popular brasileira,
com tal veemência que, até hoje, para mim,
Chiquinha Gonzaga, Tia Ciata, Noel, Lamartine,
Pixinguinha, João de Barro, Ari, Vinicius,
Assis Valente, Cartola, Adoniran e muitos mais
são personagens de estirpe equivalente
à dos maiores heróis homéricos.
Pena que, como aconteceu com tantas
outras coisas importantes em minha vida,
a fita se perdeu. Não há mais como mostrar a ninguém
o fervor quase religioso com que você se referia ao samba.
Ao samba, não. Ao Samba.
Mas não esqueço: foi ali que essa nova divindade,
pagã, mulata, bela, magnífica,
adentrou o terreiro do meu Olimpo particular.
Elvis olhava para o quintal pela janela dos fundos,
quando você me apresentou o tamborim
e a batida fundamental.
Depois, mostrou como se tocava de verdade.
Naquele momento, vi que o Elvis tossiu.
Engasgou-se com o chiclete, pensei.
Engano. Ele passava mal.
Tão mal que, quando você passou do tamborim
para a caixinha de
fósforos, ele abriu a janela para tomar um ar.
Inútil. Todo o ar sambava.
De repente, olhamos e ele não estava mais ali.
Saiu de fininho. Sumiu.
Aos 16 anos de idade, subi ao palco
e declamei, de forma inacreditável,
o Primeiro Canto de um poema épico que,
para o bem da Literatura em geral,
jamais concluí. Você estava na platéia e,
pelo que posso imaginar, deve ter pensado
que eu fosse um lunático.
Tanto é verdade que, dias depois,
convidou-me para ir à sua casa
conhecer um amigo seu recém-chegado da Ásia.
E lá estava ele, Walter Campos de Carvalho.
Tinha acabado de matar seu professor de Lógica.
À saúde disso, bebemos conhaque
e ele me revelou, afinal, de onde vinha a Lua
e tudo o mais.
A partir desse dia, aconteceram diversos
saraus semelhantes, em que bebemos
com Drummond, com João Antônio, com Pessoa e seus heterônimos,
com Fernando Sabino e Paulo Mendes Campos.
Meu Olimpo assim se expandia e,
uma noite, você me esperava acompanhado
de um senhor de idade, completamente careca,
de olhar arguto e fala abundante.
O nome dele era David Carneiro.
Falava sobre os ciclos econômicos do Paraná
com autoridade de historiador consagrado.
Era o assunto que faltava para o Não Agite
sair no carnaval como Escola de Samba,
com enredo próprio, pela primeira vez.
Você era o diretor de bateria da Escola.
E não é que me convidou
para escrever o samba-enredo?
E não é que eu escrevi?
Em seguida, embarcamos em um ônibus
e fomos para São Paulo ver a Bienal do Samba,
no Teatro Paramount. Ficamos na Boca do Lixo,
hospedados no Hotel do Português,
aquele em que, conforme você disse,
o capim continuava crescendo
por dentro dos colchões.
Fomos ao Largo do Arouche comer massa
com carne brasada no Restaurante O Gato Que Ri.
E fomos também ao Bife do Moraes
e ao Restaurante Brahma.
Entre um e outro prato, você me apresentou o MASP
e falou pelos cotovelos sobre os Impressionistas.
Fiquei impressionado.
Daí, a Elis entrou no palco e ganhou o Festival
com “Lapinha”, de Baden e Paulo César Pinheiro.
Também vimos e aplaudimos o Billy Blanco,
o Élton Medeiros, o Paulinho da Viola.
Bebemos conhaque no bar em frente ao Teatro,
Adoniran e uma patota na mesa ao lado.
E chegamos cedo ao bar em frente à Rodoviária,
para beber mais um conhaque antes de embarcar.
Bebemos olhando o relógio, para não perder a hora.
Saímos do bar quinze minutos antes do embarque.
No entanto, quando fomos embarcar,
o ônibus já havia partido. Como? E o relógio?
Olhe lá! Você esbravejava. Acontece, mano, que esse relógio anda devagar,
informou o paulistano, e tivemos que esperar
o ônibus seguinte.
Eu já estava casado com a Cristina, sua sobrinha,
quando instituímos a sinuca das quartas-feiras.
Você, Ito, Cupertino e eu. Às vezes, apareciam outros.
Seu irmão Aníbal, o Mano. O China, surdo-mor
da Não Agite. O Hamilton Rocha, cruzadista.
O Franco Giglio, muralista e pintor. O Edinho, barão europeu, herdeiro de um castelo suíço.
Muitos, muitos mais. Começava com um conhaque
na “Favelinha”, nome que você deu ao apartamento
em que morava na Carlos de Carvalho, quase esquina
com Cabral. Prosseguia no restaurante da Sociedade
Duque de Caxias, na José Loureiro, onde o casal
Calicetti cozinhava a melhor massa do mundo.
E terminava, com dezenas de cervejas geladas,
em volta das mesas do Snooker 21,
trabalhoso pretexto que inventamos para falar
sobre Orson Welles ou James Joyce,
Fellini ou Mohamed Ali, Buñuel ou Ronald Golias,
Adhemir da Ghia ou Alain Resnais.
Pois é, José, depois que você botou meu samba na rua
e a Escola saiu cantando coisas da cidade,
descobri que Curitiba era um tema
praticamente virgem em música popular.
Enfim, eu tinha um tema para compor.
Hoje me faz bem pensar que ajudei a tecer
uma alma para essa cidade.
Pois, como nós sabemos, cidades sem música
são como as mulheres sem amor.
Não têm alma.
Não sei se isso foi bom para Curitiba
ou para a Música Popular.
Nem quero saber.
Mas quero que fique bem claro,
mestre e amigo velho,
louros e tomates, sejam quantos forem,
quero dividir aqui, irmãmente, com você.